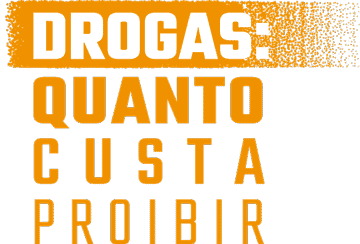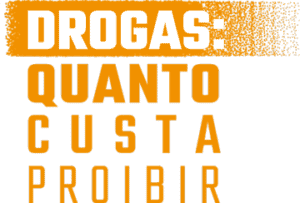Quais dores contam? Quanto custa a dor de ter seu filho morto com dezenas de tiros dentro da própria casa? E a dor de se por à procura do corpo dele em hospitais até encontrá-lo, 17 horas depois, no Instituto Médico-Legal, como fora o caso de João Pedro, 14 anos, em maio de 2020 no RJ? Quanto custa a dor de não poder ser atendido em unidades de saúde porque há operações policiais violentas em curso numa guerra inescrutável? Quanto custa a violência que há em ver escolas fechadas porque helicópteros policiais abrem fogo do céu em territórios negros e periféricos? Quanto custa a depressão de policiais – mais vitimados pelo suicídio do que pelo confronto armado?
Como podemos quantificar as dores que a proibição das drogas nos impõe? Ou, iremos mais além: que tipo de sociedade apenas leva a sério estas dores quando viram quantificáveis? Como aponta o relatório “Um Tiro no Pé: Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de Janeiro e São Paulo”, no qual se baseia este texto, “não se conhece, porém, nem é possível calcular, a dimensão mais importante dessa tragédia: a humana.” (p. 13). Segundo o próprio estudo, essa é sua principal limitação. É preciso questionar, além do lado estatal da equação desta guerra, a sociedade de capital que convive e naturaliza a dor negra.
Como nos alerta a teórica Denise Ferreira da Silva em “A Dívida Impagável” (2020), “a chamada para que as Black Lives (to) Matter [Vidas Negras Importam] esconde a pergunta que responde: por que vidas negras não importam?” O racismo estrutural nos leva a acostumarmos a não dar valor à dor negra. Como também nos lembra Ferreira da Silva em outro ensaio intitulado “Ninguém: direito, racialidade e violência” (2014), “onde fica aquele lugar onde o que não deveria ‘acontecer a ninguém’ acontece todo dia?”
O relatório revela “quanto do orçamento público é direcionado a uma política que causa tanta dor e violência” (p. 10). Quantificar, no vil metal, a guerra a corpos negros e periféricos como faz o relatório é, ao mesmo tempo, poderoso e sintomático. É poderoso, porque expõe o tamanho do projeto político de morte, e é sintomático porque evidencia que, na atual sociedade de capital, a dor preta só dói quando vira cifrão.
Trazer à luz as escolhas orçamentárias embutidas em políticas proibicionistas, no entanto, vai muito além da quantificação das dores. Por meio de um primoroso e suado trabalho de acesso à informação, o relatório expõe a desigualdade nas escolhas orçamentárias das instituições judiciais e policias, que se valem de dinheiro público para manter uma guerra cujas vítimas são invisíveis nos círculos sociais onde estas escolhas são feitas. A pesquisa coloca, por meio da via orçamentária, o elefante bem no centro da sala: desnaturaliza o proibicionismo e mostra que se gasta muito e mal para mantê-lo.
Em sociedades desiguais como a nossa, acostumadas a polícias com origem nos tempos da escravidão e a um sistema judiciário cujo fundamento remete ao racismo científico da primeira metade do século 19, é comum que os poderes judicial e policial sejam vistos como pressupostos, como fatos da natureza, e não como frutos de escolhas políticas, entre elas orçamentárias. Ao colocar uma lupa sobre os gastos de instituições policiais e de justiça, estas são vistas como formuladoras de políticas públicas sobre drogas ou ao menos executoras fiéis de uma política que mata diariamente e, portanto, responsáveis por tais escolhas.
Segurança é uma política pública ampla que não deve ser reduzida a policiamento em sentido estrito. Conta com vários tentáculos institucionais, desnudados pelo relatório em sete instituições estaduais do sistema de justiça criminal de São Paulo e do Rio de Janeiro: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo. A ausência de produção de dados sobre política de drogas por estas instituições revela, além da opacidade dos dados existentes, a subcultura destes órgãos que se veem como agentes da lei separados, e não como os integrantes que são da mesma sinfonia de morte.
Nesta engrenagem sinfônica, cada instituição desempenha seu papel no proibicionismo: a ênfase em policiamento ostensivo racializado pelas PMs, a baixa elucidação de crimes pela Polícia Civil, a predominância do viés acusatório-criminal entre os integrantes do Ministério Público, o subfinanciamento da Defensoria Pública, o punitivismo do Tribunal de Justiça, e o encarcareamento em massa de negros e negras como traficantes, mesmo quando são usuários, pelos sistemas penitenciário e socioeducativo. Embora, do ponto de vista legalista, estas instituições pareçam trabalhar de forma relativamente independente dentro de suas competências específicas, do ponto de vista da política de segurança pública, ao contrário, este concerto desafinado resulta em uma mesma máquina de moer gente, numa engrenagem, kafkaniana, onde raramente se dança outra música que não a punição.
Em termos de segurança pública, os resultados do relatório revelam gastos expressivos para manter a proibição das drogas – 5,2 bilhões ao todo no Rio de Janeiro e em São Paulo em 2017 – mas ainda uma estimativa conservadora à luz dos indicadores empregados. Diante da falta de dados específicos sobre política de drogas, a pesquisa construiu os indicadores possíveis tendo em vista a realidade dos dados. E isto em si é um mérito sem precedentes.
Um exemplo é o indicador aplicado às polícias militares: o “percentual de Boletins de Ocorrência Policial relativos a drogas sobre o total dos boletins registrados em 2017”. Por meio deste indicador, aplicado às polícias militares de São Paulo e Rio de Janeiro, a pesquisa concluiu que 7,1% no RJ e 4,0% em SP do trabalho das PMs destes estados é relativo à lei de drogas.
Aqui, transparece o problema que reside na raiz da opacidade dos dados: faltam informações sobre o custo do proibicionismo não apenas porque estes dados não são via de regra coletados ou sistematizados pelas instituições policiais e judiciais, mas também e principalmente porque o trabalho sobre a Lei de Drogas não é entendido como tal por estas instituições. Dados pressupõem certa ritualização legalista da ação judicial ou policial, ritual esse materializado no dado acima referente aos boletins de ocorrência no caso das PMs. Rituais similares são materializados num emaranhado de regras jurídicas em inquéritos criminais nos MPs paulista e fluminense ou nos registros de adultos no sistema penitenciário ou de adolescentes em medidas socioeducativas.
Por trás dos altos custos e da opacidade dos dados sobre o proibicionismo jazem instituições judiciais e policiais que não ritualizam, em procedimentos legais, tudo o que fazem para manter a guerra contra territórios e corpos periféricos e negros justamente porque pressupõem que tal guerra é sua verdadeira razão de existir e, portanto, dispensam justificativas. Seguem, assim, não contabilizados os custos das operações policiais teatrais tão violentas, quanto corriqueiras nas periferias, bem como seguem não contabilizados os esforços, por vezes implícitos, do judiciário de enquadrar usuários como traficantes, do Ministério Público de aceitar, sem senões, a versão do policial e assim por diante.
Daí que para mudar, de fato, a segurança pública proibicionista é necessário mais do que calcular o que poderíamos fazer com os bilhões gastos na proibição das drogas. Isto é importante, devo dizer. Mas para irmos além é necessário, primeiro, seguir no esforço de trazer à luz as subculturas da proibição que permeiam tais instituições judiciais e policiais e que escapam ao radar quantificável porque não são, por vezes, ritualizadas em procedimentos legais.
Como a pesquisa mostra por meio de um levantamento de opinião com os policiais militares nos dois estados, a carga de tempo de trabalho relativo à Lei de Drogas é bem maior do que indicam as porcentagens de boletins de ocorrência, chegando a 46% do policiamento e 54% das operações no Rio de Janeiro, na opinião dos próprios policiais. O desafio é fazer com que tais instituições respondam por esta carga, por vezes oculta, de trabalho a favor do proibicionismo.
Segundo, faz-se necessário propor que, inevitavelmente, tais instituições tenham menos poder em matéria de política de drogas. Isto quer dizer, tenham menos ingerência sobre corpos negros e periféricos. Não cabe a policiais, promotores, defensores, e agentes penitenciários ou socioeducativos administrar a vida e, não raro, a morte de pessoas negras e periféricas. Para por fim à guerra que vitimiza a muitos todos os dias no Brasil faz-se necessário debater que parte dos recursos sejam redirecionados de instituições policiais e judiciárias para políticas de prevenção e saúde, desidratando financeira e institucionalmente a proibição de drogas.
A dor, em sua maioria negra, por trás dos números habita um limbo: de um lado, é subestimada nos dados oficiais existentes, ao mesmo tempo em que perpetuá-la é a própria razão de existir do proibicionismo. É sobre este limbo que escreve o filósofo Achille Mbembe no ensaio “Saída da Democracia”: “Não estaremos perante um regime político totalmente diferente sempre que a suspensão da lei e das liberdades deixa de ser uma exceção, ainda que, além disso, nem seja a regra?” Não estaremos perante um regime totalmente diferente sempre que a dor constante do proibicionismo deixa de ser exceção, mas ainda não se torna explicitamente a regra? Eis a pergunta: quanto custa para manter as mortes que sequer contamos?